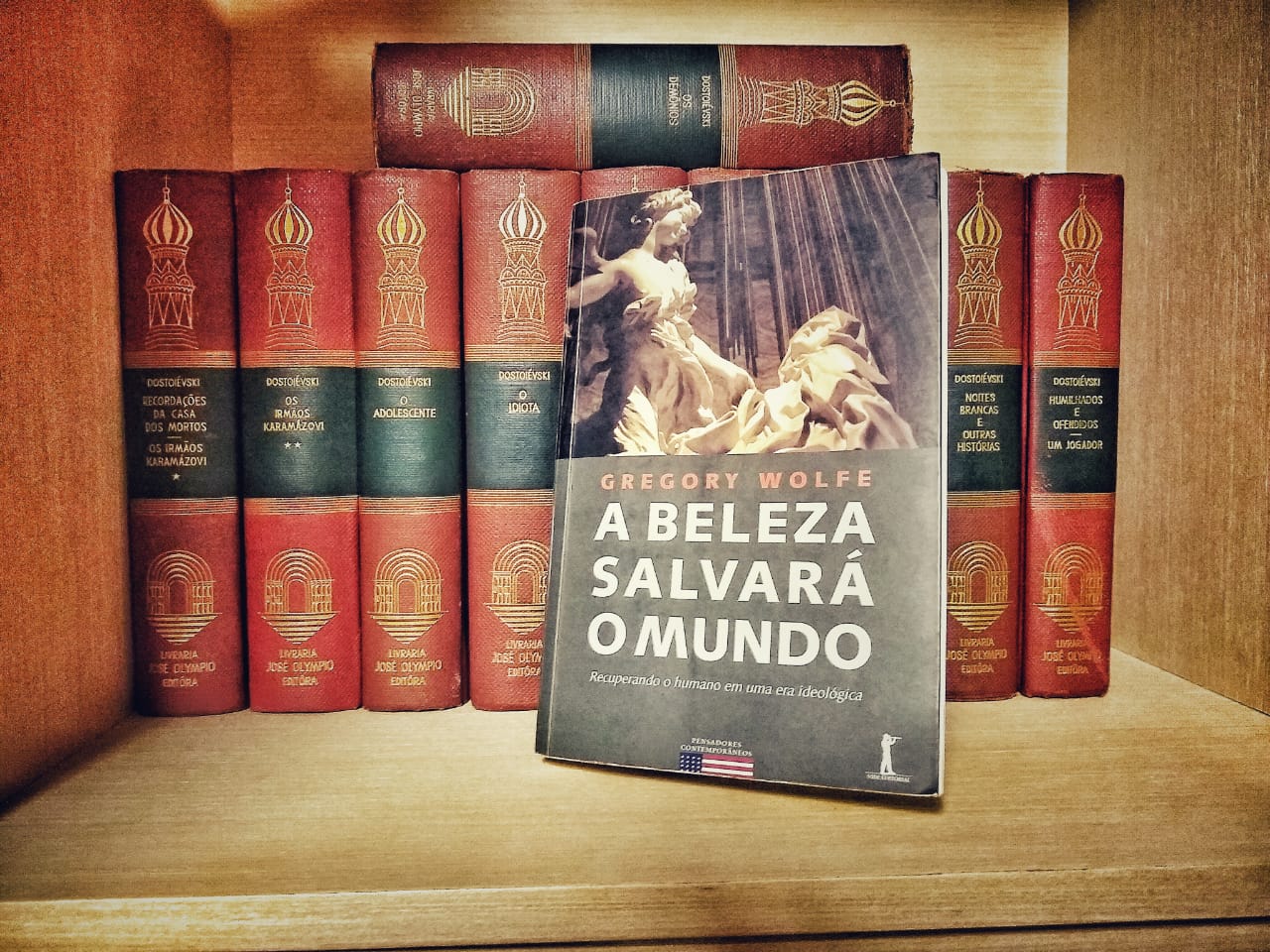Por que nunca escutei David Bowie
Compartilhar


A repercussão da morte de David Bowie serviu para que eu me interrogasse. Como afirmei em meu perfil no Facebook, no dia 11 de janeiro deste ano, “Acabo de descobrir que cheguei aos 56 anos apenas com uma vaguíssima idéia de quem foi David Bowie. Seria uma imperdoável lacuna na minha formação cultural?”.
Houve quem visse nessas duas frases, principalmente na interrogação da segunda, certa ponta de ironia, típica do conservadorismo moralista. Outros, fãs ardorosos de Bowie, acreditaram que apenas afetei desconhecimento — ou seja, fui pedante, motivado por obscuras razões. Vários, contudo, entenderam as duas frases como realmente são: uma afirmativa sincera e sua conseqüente interrogação perplexa.
A rapidez com que as informações, nas redes sociais, são esquecidas não permitiu, no entanto, à maior parte dos meus leitores a reflexão menos superficial: — Seríamos quem somos se tivéssemos todos os mesmos gostos?
À parte essa constatação, é lícito que muitos se perguntem: como é possível alguém nascido na segunda metade do século XX, e ainda lúcido em 2016, desconhecer David Bowie? Como é possível que tal homem alegre-se, ame e escreva sem apreciar David Bowie? Como é possível que esse curioso espécime consiga viver sem que suas emoções — ou ao menos parte delas — se vinculem de alguma forma às canções de David Bowie?
Poderíamos seguir com as perguntas, aprofundando-as: encontra-se, na ordem universal das coisas, alguém que possa ter experiências estéticas genuínas sem conhecer David Bowie? E, existindo tal criatura, ela realmente pode se considerar inteira e ter uma vida completa sem conhecer David Bowie?
Não sei se os fãs de David Bowie, pensando em Dmitri Shostakóvich, fazem a si próprios tais perguntas…. Ou se os adoradores de Mano Brown, a fim de diversificar sua sensibilidade estética, costumam ouvir Bowie e Shostakóvich…
De qualquer forma, tenho justificativas para o fato de Bowie não fazer parte do meu universo.
Nasci numa família de classe média numa cidade do interior paulista, hoje tão descaracterizada como outros centros urbanos do Sudeste. Em casa, e na casa de meus avós paternos, sempre ouvimos música. Sempre.
Na casa de meus avós, que visitávamos quase todos os domingos, havia uma discoteca significativa. Naquela época, entre 1960 e 1975, eles ainda ouviam discos de 78 rotações. Nas tardes de domingo, enquanto os adultos jogavam víspora ou buraco, os bolachões se alternavam na vitrola — e com o passar dos anos tornei-me o responsável por esse trabalho. Eu era o DJ das reuniões familiares. E o que escutávamos? Primeiro, em primeiríssimo lugar, alguns cantores líricos, como Beniamino Gigli, Caruso, Schipa, Mário del Monaco, Renata Tebaldi, Maria Callas e outros. Parte significativa do repertório operístico estava lá, à mão, principalmente Verdi, Mozart e Puccini. Só descobri Wagner anos depois, no final da década de 1970, quando um amigo que estudava teosofia me apresentou Der Ring des Nibelungen, salientando o que ele chamava de “características iniciáticas” desse ciclo.
Depois, seguindo uma hierarquia flexível, vinham alguns intérpretes de canções brasileiras, principalmente Carlos Galhardo, Dalva de Oliveira, Orlando Silva e, o meu preferido, Francisco Alves.
O repertório era diverso em minha própria casa. Ali, quando meus pais reuniam os amigos, imperavam Nat King Cole e Frank Sinatra. Mas foi meu pai quem me apresentou Beethoven, Chopin, Brahms e todo o variadíssimo repertório da música erudita. Anos depois, entre o final do colégio e o início da faculdade, descobri por conta própria — visitando semanalmente a antiga Bruno Blois, em São Paulo — Pierre Boulez, Stockhausen, Arnold Schönberg e, mais tarde, Philip Glass.
Voltando a meus avós, eles não apenas ouviam aqueles cantores líricos. Ainda que fossem diletantes, comparavam e julgavam diferentes interpretações da mesma ópera, pois minha avó fora, na juventude, exemplar estudante de piano, arte que abandonou por conta de um acidente caseiro, no qual perdeu o movimento e a sensibilidade do indicador direito. Ela, mais que meu avô, transmitiu-me seu amor pela música lírica — e eu o ampliei e atualizei. Tive a alegria de apresentar a ela, pouco antes de sua morte, dois de meus cantores prediletos, o barítono Dietrich Fischer-Dieskau e o baixo Nicolai Ghiaurov.
É verdade que, no colégio, influenciado por colegas e amigos, escutei Rick Wakeman, Pink Floyd e Alice Cooper, são os que me lembro, mas quando ouvia essas músicas era como se não me atingissem. Por trás da minha atenção vibrava, por exemplo, a singela humanidade de Papageno — personagem da ópera A flauta mágica, de Mozart — em sua ária Der Vogelfänger bin Ich ja; ou sua lírica tristeza em Papagena, Papagena! Weibchen! Täubchen!.
Esforcei-me para ser contemporâneo dos meus contemporâneos. Lembro-me de certo sábado à noite, em que fui ao cinema com amigos para assistir a um documentário sobre Janis Joplin: a expectativa era grande, a fila virava o quarteirão — e eu me interessava sinceramente pela cantora. Iniciado o filme, passados quinze ou vinte minutos, eu dormia… Horas depois, numa lanchonete, um colega me censurou, acusando-me do que ele entendeu ser “desprezo elitista” (sim, o marxismo já poluía nossa visão de mundo). Mas o que eu podia fazer? Estava além das minhas forças, da minha personalidade. Não se tratou de uma escolha consciente — apenas vivia e alimentava minha sensibilidade com outras músicas.
Estas notas autobiográficas não são, entretanto, um mea-culpa. Penso, como Ortega y Gasset, que “em vez de desatarmos o pranto sobre as nossas limitações, devemos utilizá-las como quedas d’água para o nosso benefício”.
Se a condição humana — e a experiência de cada homem — é e será sempre limitada e finita — ou, como afirma Ortega, “constituída por negatividades” — o que devemos fazer com aqueles que nunca se interessaram por Bowie?
O que falta a esses homens é o que “substancialmente” eles são, diz o filósofo. Ou seja, “negatividades” são, na verdade, “positividades”. Assim, de minha parte, procuro fazer o que Ortega propõe: não pretendo transformar meus semelhantes em adoradores de Mozart, da mesma forma que não me disponho a conhecer a discografia de Bowie. Ao contrário, reconhecendo nossos limites, quero sublinhá-los, quero apoiar-me neles para, “como o pássaro se apóia, para voar, na resistência negativa do ar, imaginar o modo de aproveitar esse destino e torná-lo saboroso e fértil”.
“A cultura foi sempre aproveitamento de inconvenientes”, lembra Ortega y Gasset. A visão realista do filósofo serve para os que amam Bowie, para os que o desconhecem e também para os que o desprezam. Subjacente a essas idéias vibra, na verdade, um elogiável juízo anti-utopista, que não sonha com o tempo no qual “o homem deixará de ser perigoso para o homem” — o tempo diabólico em que seríamos todos iguais.
…
Contribua para manter o Senso Incomum no ar sendo nosso patrão através do Patreon
Não perca nossas análises culturais e políticas curtindo nossa página no Facebook
E espalhe novos pensamentos seguindo nosso perfil no Twitter: @sensoinc
…
Saiba mais: